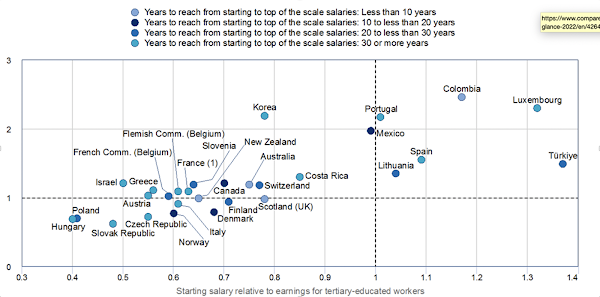Índice:
Doutoramentos nos Politécnicos
A questão da denominação
A questão da coesão territorial
Uma proposta para universidades politécnicas
DESTAQUE:
Há espaço para uma profunda reflexão sobre a organização do ensino superior. Seria muito demagógico e populista uma simples alteração das designações das instituições e, ainda mais, se acompanhada da autorização para que passem a oferecer o grau de doutor.
DOUTORAMENTOS NOS POLITÉCNICOS
Por estes dias, discute-se no Parlamento se os institutos politécnicos deverão ser autorizados a conceder o grau de Doutor, invocando que têm um impedimento puramente administrativo. E, já que vão conceder este grau máximo, não deveriam mudar a designação para universidades politécnicas? Argumenta-se que o sistema binário não seria beliscado, embora os dois subsistemas passassem a receber estudantes com as mesmas qualificações, tivessem docentes com carreiras idênticas e concedessem os mesmos graus. Difícil de compreender? Este é o ponto em discussão e de forma bastante acalorada pela força e antiguidade dos argumentos.
O sistema binário de ensino superior foi imaginado por Veiga Simão nos idos de 1972 e posto no terreno com as primeiras ajudas do Banco Mundial pelo ano de 1980. Os conceitos eram claros e os objetivos bem diferentes e toda a reflexão internacional apontava nesse sentido. O acesso ao ensino superior crescia em toda a Europa e também em Portugal, ainda que com algum atraso. Mais estudantes significava estudantes mais diversos nas competências e nas aspirações. Mais diplomados significava que iriam assumir funções mais diversas na sociedade e que a maioria passaria a trabalhar no setor privado com funções que não tinham exigido no passado educação superior. O conjunto muito limitado de opções oferecidas pelas universidades no direito, na medicina, nas engenharias, na formação de professores e pouco mais seria insuficiente para a vasta gama de ocupações que os novos diplomados iriam assumir. O acordo era geral e a decisão foi pacífica.
Não chega decretar que o sistema é binário, que os jovens podem escolher dois tipos de ensino superior. É preciso estimular as instituições a criarem cursos que sejam vistos como diferentes pelos estudantes, pelas famílias e pelos empregadores. Aqui a falha foi total e progressivamente mais agravada. Primeiro aproximaram-se as designações dos cursos e, depois (com Bolonha), foram totalmente identificadas. Em 2009, as carreiras docentes nas instituições do estado tornaram-se idênticas (salvo nas designações). Ao longo dos anos foi sempre sugerido a docentes de universidades e de institutos politécnicos que deveriam financiar a sua investigação sob as mesmas regras de competição junto da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). De facto, a FCT ignora a existência de um sistema binário, embora seja a mesma FCT que comprova a qualidade do trabalho científico dos docentes que justificam perante a Agência de Acreditação (A3ES) de mestrados e doutoramentos. E a A3ES tem, supostamente, de regular a diferença entre o ensino universitário e o politécnico. É difícil de compreender e torna-se impossível de aplicar.
O que se considera agora é o último passo no sentido de oferecermos um ensino superior homogéneo em que todos os jovens que queiram prosseguir o percurso educativo superior vão entrar num ambiente (supostamente) de investigação com professores que são ao mesmo tempo investigadores com visibilidade internacional. São hoje mais de 50% da coorte de 18 anos. Nenhum país do mundo achou ter condições para oferecer um ambiente de investigação num percurso pós-secundário a mais de 50% dos seus jovens. E nenhum país achou que isso era importante para a felicidade desses jovens e para a prosperidade da sociedade. A Califórnia desenhou o seu sistema de ensino superior para receber cerca de 10% dos seus jovens de 18 anos em universidades de investigação. Tem esta norma há 60 anos e continua a ter as melhores universidades e as mais atrativas para os estudantes da Califórnia, dos outros estados norte-americanos e do estrangeiro. Não tem dinheiro para mais! Será por isto que as nossas universidades não conseguem ser competitivas internacionalmente em investigação? Há menos dinheiro e distribuído por mais docentes-investigadores. Vamos dar mais um passo neste caminho. Vamos afastar-nos mais das sociedades mais bem-sucedidas.
Tem sido invocado o caso inglês da redesignação, em 1992, dos Polytechnics como universidades tornando o ambiente de competição entre universidades mais duro com uma forte perceção pública da sua diferenciação. O financiamento estatal da investigação concentra-se em pouco mais de uma dezena das mais de cem universidades existentes.
No último estudo da OCDE sobre o ensino superior português, publicado em 2019, estes temas foram muito discutidos e o leitor do relatório compreende bem as pressões a que os peritos estiveram sujeitos. No seu recente depoimento na Comissão de Educação do nosso Parlamento, a 19 de outubro, os mesmos peritos não se afastaram do que tinham escrito em 2019, tornando a sua posição ainda mais clara. Aí foi salientada a importância dos institutos politécnicos pela proximidade ao tecido económico da sua região com uma investigação para o desenvolvimento das profissões e a economia local. Foi salientada a importância dos cursos superiores curtos, TeSP, e insistiram na necessidade de evitar investigação de baixa qualidade, reforçando a sua relevância para a região. E voltaram a sugerir a possibilidade de oferecerem educação ao nível de doutoramento em formatos de desenvolvimento profissional, dando os exemplos do ensino (básico e secundário), da Fisioterapia e da Enfermagem. Não surpreende esta posição porque é a solução adotada nos Estados Unidos e que parece começar a ser seguida nalguns países europeus. Em alguns casos, adotam a designação de PhD Profissional para marcar a diferença entre este tipo de trabalho de pós-graduação focado no aperfeiçoamento profissional e o PhD tradicional em que se prepara uma tese com um avanço no conhecimento em resultado de 3 ou 4 anos de trabalho de investigação.
Os peritos da OCDE fazem esta recomendação de abertura à possibilidade de alguns institutos politécnicos oferecerem doutoramentos em algumas poucas áreas de cariz profissional que as universidades não lecionam e ainda com o alerta de que isso exigirá um acompanhamento regulatório muito próximo e um investimento considerável. Sabemos bem que a porta entreaberta pelo decreto-lei nº 65/2018 vai num sentido bem diferente, o da autorização da concessão do grau de doutor em todos os institutos politécnicos e em todas as áreas científicas apenas cumprindo os requisitos que a Agência de Acreditação já coloca às universidades.
Deve notar-se que a referência da OCDE a doutoramentos profissionais e à prática profissional nada tem a ver com o conceito de doutoramento em empresa que é incentivado em Portugal há mais de um quarto de século e não tem maior aderência pela dificuldade em encontrar empresas ou outras organizações com um setor de investigação competitiva nacional ou internacionalmente. Nestes doutoramentos mantém-se o requisito de existir um contributo para o conhecimento da humanidade, ainda que possa ser de natureza aplicada, pré-competitiva. É normal em todo o mundo que alguns doutoramentos decorram em laboratórios de investigação não universitários e muitas empresas têm laboratórios mais bem equipados e mais modernos do que as universidades suas parceiras pelo que um doutoramento naquele ambiente tem a vantagem de considerar um problema relevante para a empresa e no limite do conhecimento e como tal reconhecido pelo orientador universitário. E o doutorando fica habilitado a trabalhar nesta fronteira do conhecimento e será provavelmente contratado pela empresa para prosseguir na mesma área, provavelmente com total reserva para manter a vantagem competitiva da empresa. Temos hoje algumas empresas com estas condições e interessadas na colaboração com a academia. Infelizmente são ainda demasiado poucas. A razão estará no predomínio das pequenas e médias que não têm dimensão para manter um departamento de investigação e tirar dele um retorno compensador.
Em síntese, é difícil encontrar um racional para alargar aos institutos politécnicos a competência para outorgar o grau de doutor. O número de novos doutorados anualmente é já em Portugal similar ao de outros países europeus (embora haja grandes variações) e as condições de emprego são ainda muito difíceis pela incapacidade de absorção fora do espaço académico. Este alargamento enfraquece a já frágil diferenciação entre os subsistemas universitário e politécnico. Em comparação internacional, especialmente com os Estados Unidos, poderá considerar-se a possibilidade de os institutos politécnicos outorgarem o grau de Doutor Profissional (Professional PhD) em áreas onde é mais relevante o aperfeiçoamento e a inovação da prática profissional do que alguma linha de busca de novo conhecimento que se terá de esperar ser originado em outras áreas do conhecimento, sendo também áreas onde as universidades não têm intervenção ao nível de graduação. Os peritos da OCDE deram alguns exemplos.
A QUESTÃO DA DENOMINAÇÃO
A insatisfação dos institutos politécnicos com a sua designação é antiga. Acompanhou a tendência das instituições de ensino superior profissional ou vocacional de vários países para adotarem a tradução livre em inglês de University of Applied Sciences. Países de tradição germânica e países nórdicos (que não tinham norma legal para a tradução dos nomes das suas instituições) adotaram este nome na comunicação em inglês sem nunca alterarem a designação na língua de origem. Curiosamente, um nome que nenhum país de língua inglesa adotou. Foram quase vinte anos de campanha sem resultados.
A designação de instituto politécnico compreendia-se em 1972 quando Veiga Simão a introduziu na nossa regulamentação legal ao lado dos novos institutos universitários. Eram instituições nascentes, ainda que, em alguns casos pudessem integrar antigas instituições de ensino médio. A figura de instituto universitário evoluiu para universidade, salvo no caso do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa com um caráter distintivo de especialização. Os institutos politécnicos mantiveram a designação, apesar de terem desenvolvido um âmbito multidisciplinar. Manteve-se a norma, mas não a prática. Por volta de 2015, um instituto politécnico deixou cair a designação de instituto e rapidamente todos adotaram a designação de Politécnico. É verdade que o RJIES restringe essa autonomia de escolha da designação, mas a mesma liberdade já tinha sido assumida por unidades orgânicas universitárias. Talvez uma futura revisão do RJIES possa seguir a prática já corrente de termos universidade e institutos universitários ao lado de politécnicos e institutos politécnicos.
Será o termo universidade crucial para que a instituição possa assumir alguma visibilidade internacional? Grandes instituições académicas de impacto internacional dispensam essa designação. Desde o Politecnico di Milano ao MIT, Massachusetts Institute of Technology ou o Caltech, California Institute of Technology. Não é a norma e talvez seja um facto que só instituições muito fortes dispensam a designação.
Subitamente, a campanha de redesignação assumiu uma nova ambição. Já não seria suficiente ser University of Applied Sciences. A inovação irlandesa de uma Tecnological University Dublin, criada a 1 de janeiro de 2019 por fusão de três antigos institutos de tecnologia, terá sido a inspiração. Este não pretende ser uma verdadeira universidade técnica por ter herdado áreas muito diversas. Está autorizado a conceder o grau de doutor de forma muito controlada e muito acompanhada. O ensino superior irlandês sofreu cortes de 20 a 30% com a crise financeira de 2008 e ainda não recuperou totalmente apesar de a economia ter já retomado o antigo alto ritmo de crescimento e o número de estudantes ter crescido sempre. O reforço da investigação depende da criação de novas cátedras que carecem de autorização governamental e a evolução tem sido muito lenta.
Na esfera do ensino superior, as designações são muito diversas. Se a designação de politécnico é perfeitamente aceite, deixa a ambiguidade entre a intenção mais vocacional e o formato de uma grande escola de engenharia e arquitetura de natureza universitária tradicional como é o caso de Milão. A designação de universidade tecnológica sugere um esforço de reforço gradual, mas seguro, como é o caso irlandês, que leva uma instituição de ensino superior de cariz vocacional a assumir uma componente de investigação e a afirmar-se progressivamente como tal. A designação de universidade politécnica é usada em Espanha para as quatro universidades estatais especializadas nas engenharias, na arquitetura e alguma tónica empresarial. A designação mais comum para assinalar a relevância das suas engenharias é Universidade Tecnológica que inclui muitas vezes fortes componentes científicas por ser cada vez mais próxima a investigação científica e a sua aplicação tecnológica. Os equivalentes mais próximos em Portugal são o Instituto Superior Técnico e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, as duas escolas de engenharia mais antigas e ainda mais procuradas.
Não se compreende ainda se a proposta é para seguirmos o caminho irlandês de fusão de instituições regionais com cariz vocacional ou profissional, algumas à distância de centenas de quilómetros. E preparar a sua nova missão com um reforço orçamental e o recrutamento de pessoal docente com o desejado desempenho científico e de relação com a inovação empresarial. Ou será apenas oferecer uma designação mais apelativa a instituições que irão manter as suas fragilidades, por vezes resultantes apenas da sua localização.
A QUESTÃO DA COESÃO TERRITORIAL
Desde a grande expansão da segunda metade do século XX, o ensino superior tem sido usado em muitos países como instrumento de desenvolvimento regional com resultados desiguais. Foi demonstrado que grandes universidades competitivas internacionalmente pela sua investigação atraem empresas a trabalhar na fronteira do conhecimento com quem vão interatuar no sentido de lhes fornecer pessoal muito qualificado e de serem apoiadas diretamente no desenvolvimento de novas tecnologias. Este sucesso verificou-se claramente em alguns poucos casos no nordeste dos Estados Unidos e na região de São Francisco. Cambridge e Oxford mantêm a sua vocação histórica, mas têm alimentado nos últimos decénios espaços de grande dinamismo empresarial. Mais frequentemente, os objetivos são muito mais limitados, com as instituições de ensino superior a desenvolver-se no sentido de apoiar com os seus diplomados as necessidades de mão de obra dos setores produtivos já instalados na região.
Em Portugal, o progressivo abandono de algumas regiões ditas do interior (mesmo que a um par de horas das regiões metropolitanas de Lisboa ou do Porto) deixou universidades e institutos politécnicos como últimas âncoras de alguma atividade económica. A economia dessas regiões está certamente a beneficiar da despesa dos estudantes e do pessoal docente e não docente, mas não é claro que haja muito sucesso no incentivo de atividade económica autónoma. No imediato, será necessária uma diferenciação positiva no apoio a essas instituições que são incapazes de competir num campo horizontal. Os seus benefícios para as regiões só serão sentidos quando houver mecanismos de incentivo à criação de emprego que atraia mão de obra externa e aproveite aquela que completa a sua educação no local. E, para este efeito, a capacidade de oferecer doutoramentos será um requisito para que as instituições contribuam mais para o desenvolvimento da região, mas um requisito a colocar no último lugar. Como lembram os peritos da OCDE, muito mais importante é o crescimento dos cursos de TeSP e a inserção dos diplomados nas empresas e organizações onde estagiam (não sendo desviados para prosseguirem de imediato uma licenciatura).
A adesão à União Europeia veio facilitar a mobilidade das pessoas que passaram a poder escolher a sua residência e o seu posto de trabalho num espaço muito mais vasto. Mais tarde, a globalização e as tecnologias que a facilitaram permitiram uma maior mobilidade das populações com grandes vantagens individuais e também com novos problemas sociais. As instituições de ensino superior participam neste processo, primeiro com as mobilidades Erasmus que preparam os jovens para uma Europa sem fronteiras e, depois, com a maior abertura pela chegada dos estudantes internacionais. Temos hoje um número não quantificado de jovens portugueses que optam por estudar no estrangeiro. Para alguns, esse é o primeiro passo para uma vida noutras paragens. Muitos colegas que completam a educação superior em Portugal também acabam por se fixar noutros países, seja pelas melhores oportunidades que aí encontram, seja pelo gosto de fazer uma experiência diferente. Este movimento de saída é compensado por um movimento em sentido inverso com um número crescente de estudantes internacionais a frequentar as nossas universidades e institutos politécnicos. Infelizmente, o balanço é negativo em números e, muito provavelmente, nas suas competências de empreendedorismo. Há indícios de que muitos dos jovens que nos procuram para frequentar o ensino superior estarão disponíveis para iniciar a sua vida ativa na Europa, alguns em Portugal. O ensino superior estará assim a oferecer um canal de imigração razoavelmente qualificado, bem necessário para atenuar a emigração muito qualificada que se tem mantido nos últimos anos.
UMA PROPOSTA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
Toda a argumentação acima aponta para a necessidade de reforçar o sistema binário e não de o enfraquecer ainda mais depois do abandono a que foi votado ao longo dos seus 40 anos de vida. A estagnação económica do último quarto de século exige que repensemos o modelo de qualificação para satisfazer as necessidades da população e retomar o crescimento. Qualificar significa ter uma visão global de toda a população e tentar criar condições de equilíbrio para que cada pessoa atinja e cumpra a sua ambição, não desperdiçando o potencial de ninguém. Exige que o conjunto de qualificações a todos os níveis, desde o profissional (nível 4) até ao doutoramento (nível 8), assumam os melhores padrões de qualidade para enfrentar a competição internacional e que se tente atenuar a frustração da subqualificação, mas também da sobrequalificação. No que interessa aqui, interessa saber como poderão os atuais institutos politécnicos integrar-se no complexo sistema educativo.
A Irlanda é certamente um exemplo a ser estudado para aproveitarmos o que mereça adaptação às nossas condições. Com pouco mais de metade da nossa população, têm encontrado recursos humanos para estudar os problemas e para enfrentar as crises. A improvisação não permitiria chegar lá e ter um primo americano não é suficiente. Tem um sistema de ensino muito eficaz e muito eficiente. Têm um sistema científico muito produtivo e extremamente eficiente: a despesa pública por cada artigo científico é a mais baixa da OCDE! Têm algumas universidades no topo do reconhecimento internacional. Embora não tenha sido um processo linear, a criação das Technological Universities merece atenção, merece um estudo aprofundado que vá além do plágio do nome.
Portugal tem um número de doutoramentos anuais por milhão de habitantes superior ao de outros países europeus vizinhos. Alguns docentes dos institutos politécnicos foram estimulados a trabalhar com os colegas das universidades e a apresentar-se aos mesmos concursos competitivos da FCT. Não admira que a diferenciação seja difícil de encontrar. Há competências e há muita juventude que deve ser orientada para um melhor futuro da nossa sociedade. As instituições têm feito um grande esforço para responder aos estímulos externos. Há capacidade instalada para construir um futuro melhor, assim saibamos desenhar as políticas que deem o pequeno impulso necessário para que o sistema avance no sentido correto.
Sim, poderíamos servir bem o país, criando universidade politécnicas que ofereceriam o diploma de TeSP, e os graus de Licenciado, Mestre e Doutor, todos de cariz profissional. Seguindo a sugestão dos peritos da OCDE o grau de doutor seria pensado para ser diferente do tradicional. Teria uma duração de 3 a 4 anos de formação e treino na reflexão e investigação no sentido de (i) resolver problemas reais das empresas e organizações da região (investigação aplicada) ou de (ii) reflexão e teste para o aperfeiçoamento de algumas profissões já decorrentes de formações reservadas aos institutos politécnicos atuais.
Com esta posição pretende-se aprofundar o sistema binário atual criando um terceiro tipo de instituições, permitindo, a prazo, que algumas universidades ou institutos politécnicos atuais se candidatem a este novo estatuto. Passaríamos a ter três tipos de instituições de ensino superior:
1. Politécnicos, institutos politécnicos e escolas politécnicas (não integradas), concederiam o diploma de TeSP e os graus de Licenciado e Mestre, todos de cariz profissional;
2. Universidades politécnicas, concederiam o diploma de TeSP e os graus de Licenciado, Mestre e Doutor, todos de cariz profissional;
3. Universidades, institutos universitários e escolas universitárias (não integradas), concederiam os graus de Licenciado e Mestre e Doutor.
Esta proposta só poderia ser aplicada se acompanhada de uma revisão legislativa que desse uma forte orientação à A3ES no sentido de diferenciar os graus académicos de cariz profissional, notando-se que esta orientação não está hoje suficientemente clarificada. Teria de ser criada uma agência de financiamento que passasse a estimular a investigação aplicada de impacto regional e o aperfeiçoamento profissional de modo que, a prazo, os ciclos de estudos de cariz profissional ganhem maior autonomia e consistência. Também o corpo docente das instituições teria de manter um forte corpo de docentes próprios, mas acompanhado de professores convidados ou especialistas (verdadeiros) que estejam ativos profissionalmente e venham transmitir aos estudantes (numa docência a tempo parcial) esse saber prático que lhes facilite a transição futura para uma atividade profissional.
Esta proposta merece ser avaliada no sentido de decidir se há interesse em diferenciar explicitamente os atuais institutos politécnicos e conceder a alguns a capacidade para conceder o grau de Doutoramento Profissional. Em termos estratégicos, o mais importante é clarificar a orientação ou o objetivo dos ciclos de estudos. A exemplo de outros países, poderemos explicitar a natureza profissional dos ciclos de estudos oferecidos pelos institutos politécnicos e mandatar explicitamente a A3ES para acompanhar essa clarificação. Esta medida pode ser assumida sem mais alterações regulamentares.
Outra medida a ser ponderada é a diferenciação da denominação do conjunto atual de institutos politécnicos, a exemplo do que acontece com o setor universitário. A analogia direta será abrir a possibilidade de alguns institutos politécnicos usarem o nome de Politécnico, dependendo da dimensão e diversidade de áreas cobertas. Por último a ponderação da nova designação de Universidade Politécnica que seria atribuída aos politécnicos que mostrarem a capacidade para oferecerem dois ou três ciclos de estudo de doutoramento.
Em conclusão, há espaço para uma profunda reflexão sobre a organização do ensino superior português e da sua ligação ao sistema científico e tecnológico para melhor servir o Portugal e os portugueses. Seria muito demagógico e populista uma simples alteração das designações das instituições e, ainda mais, se acompanhada da autorização para que passem a oferecer o grau de doutor, mantendo as suas fragilidades e a enorme fragilidade da A3ES na regulação da acreditação e a sua dependência de decisões da FCT que, naturalmente, trabalha noutra lógica.
Campus da Universidade da Maia, 12 de dezembro de 2022